Pandemia, vazio e sentido de vida – Uma questão também socioambiental

O presente texto é um convite a reflexão sobre algumas transformações na vida social que estamos experimentando, em uma dimensão existencial, e como isso pode encontrar questões socioambientais.
Entendemos que é impossível tentar entender a pandemia de forma desarticulada do contexto social e econômico em que hoje vivemos. Além disso, entendemos também que isso não é possível de ser feito se desconsiderarmos a perspectiva existencial dessa experiência. Muitos textos têm abordado a questão do isolamento social e da forma que isso nos foi colocado, implicando em alterações de nossas rotinas e reduzindo nossa perspectiva de futuro. Para entender esse momento, poderíamos mobilizar as ideias de Emile Durkheim, sobretudo o conceito de anomia. Outra ideia também importante para desenvolver essa reflexão, e na qual iremos nos deter, é a ideia de vazio existencial proposta por Victor Frankl (1984). Entretanto, como podemos sair de nossa experiência presente da pandemia e encontrar ideias desenvolvidas em um campo de concentração nazista e publicadas em 1984, por um já ex-prisioneiro desse campo? Bem, se pararmos para pensar sobre o que nós estamos vivendo, de repente, provavelmente perceberemos que paramos de fazer planos e entramos em um estado de suspensão, de pausa. Perdemos o horizonte… se transitarmos pelas ideias de Frankl poderemos aproximar nossa sensação atual do conceito de vazio existencial. Essa ideia de vazio existencial, mais além da perda de perspectiva, pode ser compreendida como a ausência de sentido de vida, outro conceito importante do autor.
Explicando melhor o conceito de “sentido de vida” em Frankl, seguindo o autor, podemos recorrer ao aforismo de Nietzsche: “Quem tem um porquê suporta qualquer como”. O sentido de vida, nessa concepção, é o porquê, ou seja, razão ou motivo que me leva a suportar qualquer como, a qualquer contingência presente. Retomando a história de Frankl, no período em que ele foi prisioneiro, no campo de concentração nazista, ele pode observar que as pessoas que tinham maior chance de sobrevivência eram aquelas que sabiam que havia uma tarefa (um projeto, um familiar, um porquê viver) esperando por eles após esse período de sofrimentos. Enfim, a experiência do vazio existencial é a experiência da ausência de sentido de vida. Frankl (1984, p.73) nos abre uma perspectiva para avaliarmos algumas agruras da vida moderna ao explicar esse vazio existencial em termos de uma “neurose dominical” – aquela espécie de depressão que acomete pessoas que se dão conta da falta de conteúdo de suas vidas quando passa o corre-corre da semana atarefada e o vazio dentro delas se torna manifesto. Para o autor, o mesmo é válido também para crises de aposentados e idosos.
Quantos vazios nós já não estávamos excessivamente preenchendo com ações e objetos que não trazem qualquer sentido as nossas vidas? Quantas rotinas sem sentido, sem propósitos, talvez estejam/estivessem nos sequestrando de nós mesmo? Talvez já estivéssemos assolados por rotinas que escondessem de nós, pouco a pouco, o sentido de nossas vidas. Assim, o momento atual talvez tenha apenas deixado mais evidentes as diversas faltas de sentidos de nossas existências. De pronto, esses vazios existenciais, em que estamos sobrevivendo, tomam contornos de um imenso domingo que insiste em nos dizer, em silêncio, o quanto muitos aspectos de nossas vidas carecem de sentido.
Dada a emergência e o agravamento de alguns problemas psíquicos durante a pandemia, é possível entender que nossa sociedade talvez já estivesse adoecida, repleta de vazios, e nós apenas não conseguimos diagnosticar. Na impossibilidade de encontrar o real sentido de nossa existência, provisoriamente fomos os colocando em prazos, metas, casamentos, compras, carro novo, viagens… coisas, mas nada disso de fato preencheu nossas vidas de sentidos.
Talvez (sabemos que há muitos “talvezes” em nossas reflexões) nós estivéssemos vivendo completamente em um amanhã repleto de coisas e vazio de sentidos. Esses amanhãs não foram suficientes para nos garantir motivos para sobreviver ilesos aos “comos” da vida. O status, produzido por bens consumidos e almejados por nossa sociedade, pode garantir nossa sobrevivência aos campos de concentração??? Ser rico, poder consumir, muito frequentemente se converte em sentido (vazio) para muitos de nós. Ao nos questionarmos sobre isso, podemos voltar às ideias de Erich Fromm: Ter ou ser? Talvez seja preciso ter sentido para poder ser.
Mas por que interessa tanto ter e em que ponto nos enveredamos a definir isso como valor? Infelizmente a origem de tal valor ultrapassa os objetivos desse texto, mesmo diante de sua importância. No entanto, para a nossa discussão o mais importante é mesmo sua centralidade, pois esse valor é o sustentáculo da nossa sociedade, a despeito do que faz com os indivíduos. Vamos aos fatos, no sistema capitalista há uma demanda pela criação de uma desigualdade. De forma simplória, essa desigualdade pode ser representada pelo quase antagonismo das ideias de “ricos” e “pobres”. Esses últimos são responsáveis pela força de trabalho (os que produzem). Porém, os que produzem e são pobres são, ao mesmo tempo, os grandes consumidores. Os pobres são os responsáveis pela produção e fluxo dos produtos. Essa produção é coordenada pelos detentores (donos) das máquinas (meios de produção) que produzem a partir de (superexploração de) recursos da natureza. Os recursos da natureza, nesse contexto, passam a ter valor quando incorporam o valor do trabalho, sendo alguns trabalhos mais caros do que outros, de forma que o produto mais barato é o que incorpora o valor de mão de obra, mas desqualificado ou de menor valor. O objetivo dessa engrenagem parece ser sempre aumentar a massa de consumidores e, portanto, de força de trabalho, cada vez mais sedenta por consumir. O que acontece se em uma sociedade onde “o ter” é um valor basilar for tirado a perspectiva de amanhã?
Cabe aqui deixar claro que essa expectativa de futuro ou de capacidade futura de se manter financeiramente de forma autônoma nos leva a agir, a produzir, o tempo todo, desde a infância. Nesse modo de pensar, formar crianças superprodutivas pode ser uma forma de prevenção de pobrezas e garantir “um futuro” feliz. Essa felicidade está, em grande medida, relacionada a uma pressão para o consumo (“meu filho, quando você crescer, você terá a sua casa, o seu carro…”). Cabe aqui repetir um maravilhoso twitter do índio tucano Sarmento Ye´pâ-Mahsü:
“O mais forte estranhamento meu sobre o mundo do branco não foi ver as pessoas passeando com o cachorro, mas o pergunta às crianças o que elas querem ser quando crescer…” (18 julho 2020).
Repare que no nosso texto a pressão para o consumo, tida como fonte de felicidade, é ao mesmo tempo reprimida pela necessidade de agirmos de forma previdente em função de um futuro. Trabalhamos hoje para garantir um descanso no final de semana ou nas férias de final do ano, quem sabe, uma aposentadoria no final da vida. Não vivemos o hoje e esse hoje se resume a uma expectativa de ter, que não nos traz satisfação quando alcançamos. Mais grave ainda é o fato dessa expectativa do “ter” representar um segundo princípio basilar de nossa sociedade, ou seja, grande parte da nossa sociedade, está ancorada em uma expectativa de crescimento que não vai acontecer. Existe mais dinheiro emprestado, na forma de crédito, e mais juros a pagar pelos empréstimos do que nosso planeta consegue prover. Muitos empreendimentos com empréstimos de dinheiro que não existe, alimentam a expectativa de juros para uma parcela de aplicadores independente da capacidade da Terra conseguir prover o necessário para que os empreendimentos saiam do papel. Sim! Parece que essas ilusões são produzidas em cadeias. Ilusões de sentido a sustentar ilusões, que são sustentadas por outras… Imaginem então o descompasso entre futuro e expectativa de futuro que vivemos. A nossa sociedade é feita de pessoas que apostam em um futuro que já deixou de existir há tempos. Afinal de contas, a Terra não consegue suportar o nosso modelo de desenvolvimento e a expectativa de desenvolvimento que existe hoje no mercado. Em suma, esses sentidos provisórios que atribuímos as nossas vidas estão fundamentalmente sustentados em práticas predatórias que estruturam um premente aniquilamento (de muitos modos) da vida em nosso planeta.
Até aqui falamos das pessoas e do nosso modelo de desenvolvimento, ambos sem sentido e sem futuro em tempos de crise, por conta da pandemia e da crise ambiental. Cabe, portanto, ressaltar que essa divisão entre pessoas e sociedade ou modelo de interações, que resultam em nossa economia, podem ser colocadas em uma mesma perspectiva. As pessoas que “se dão bem” nesse sistema são justamente aquelas que estão mais ajustadas a esse sistema (na maioria das vezes não estão em condições de dura sobrevivência e confiam no amanhã). Essas pessoas são aquelas que não vivem mais o presente, vivem sempre o futuro, um futuro carente de um real sentido. Elas dependem da expectativa de crescimento econômico, vivem expectativa de uma agenda, vivem a expectativa de um descanso, vivem de expectativa de riqueza, mas não vivem a partir de um sentido. Quando isso começa a ser desvelado, é justamente quando as dificuldades no campo psicológico começam a ser sentidas, e o vazio existencial experimentado.
As pessoas agora reclusas, isoladas, afastadas também fisicamente, precisam se confrontar a si mesmas, examinar a si mesmas, tentar entender seu lugar nessa nova realidade, encontrar o porquê desses “comos”. Essas pessoas são desafiadas a tentar rever as suas prioridades e se enfrentar. Um enfrentamento que precisa ser superado de maneira individual, e implica em rever sua relação com o futuro, com a Terra e com como isso se relaciona com os seus sentidos de vida.
Para terminar, mas não concluir (esse não foi tanto o nosso objetivo), “ouviremos” mais uma vez as palavras de Frankl:
“Não devemos esquecer nunca que também podemos encontrar sentido na vida quando nos confrontamos com uma situação sem esperança, quando enfrentamos uma fatalidade que não pode ser mudada. Porque o que importa, então, é dar testemunho do potencial especificamente humano no que ele tem de mais elevado, e que consiste em transformar uma tragédia pessoal num triunfo, em converter nosso sofrimento numa conquista humana. Quando já não somos capazes de mudar uma situação – podemos pensar numa doença incurável, como um câncer que não se pode mais operar – somos desafiados a mudar a nós próprios”. (FRANKL, 1984, p.77)
E aí, o que dá sentido à sua vida? E como isso que dá sentido à sua vida pode garantir a existência de outras formas de vida? Responda aí nos comentários!
Ah! E se você gostou dessa reflexão, acho que você também poderá gostar dessa reflexão do Allan Watts – O que você faria se o dinheiro não existisse?
Frankl, V. E. Em busca de sentido (W. Schlupp, trad.). Petrópolis, RJ: Vozes, 1984
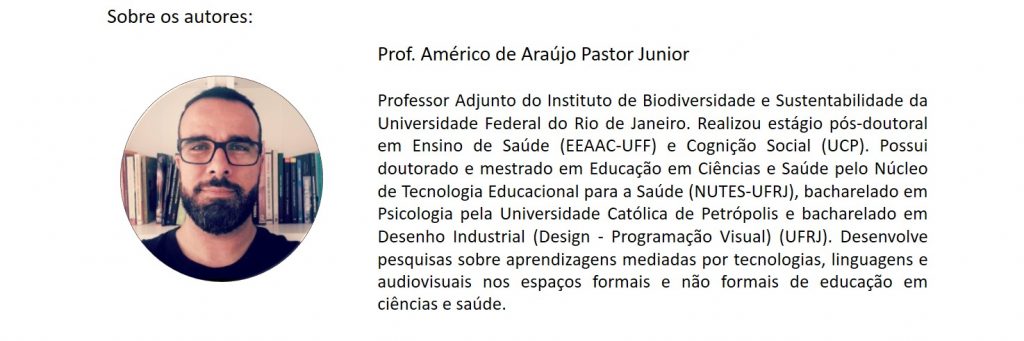
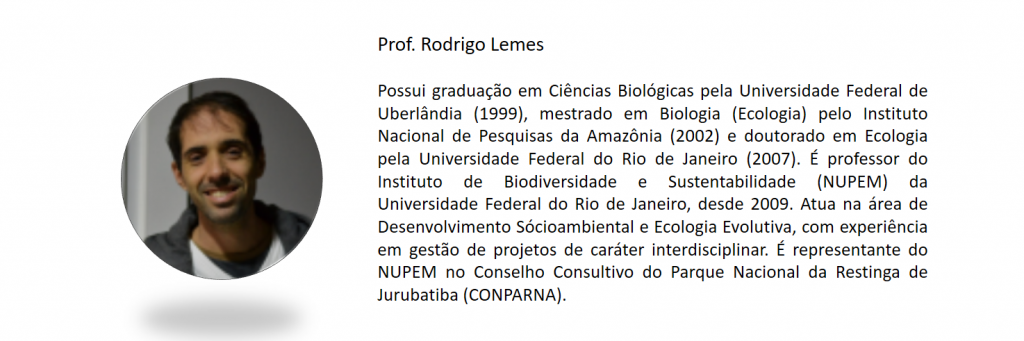




O que dá sentido à minha vida?
Nenhum, porém, todos os dias tomo um gole de água com gás a fim de preparar minhas papilas para degustar a vida.
Muito me preocupa a busca desse sentido, mas se isso conforta um “irmão” serei voraz em reposiciona-lo nessa ilusão. Dessa forma, penso que devo ter uma missão. Será que esse é o sentido?
Excelente reflexão.
Obrigado, Luciana! 🙂
Excelente, Monique! E para onde aponta essa sua missão? 🙂